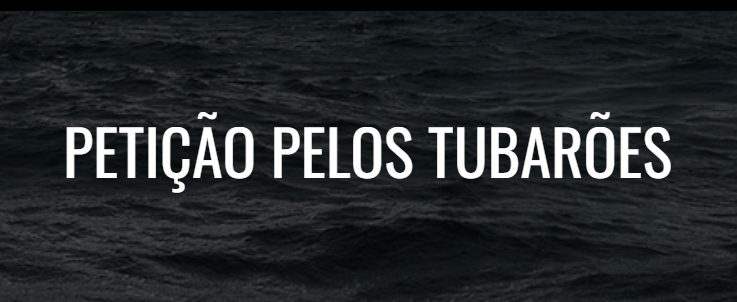Hoje eu fui a um dos meus restaurantes não-veganos favoritos. Eles têm um buffet vegetariano disponível para se servir à vontade; o restaurante é super aconchegante e fica aqui na esquina de casa. Tinha parado de ir porque ficava receosa de ficar incomodando os funcionários perguntando o que é vegano no buffet, mesmo sempre pagando os 10% de cortesia. Sugeri que eles deveriam colocar uma plaquinha na frente de cada opção para facilitar. E eles fizeram. Cheguei hoje lá e me deparei com um “Ovo Pochê com Espinafre (vegano)”.
Chamei um dos funcionários para mostrar que a plaquinha estava errada e, quando mostrei, ele leu novamente para mim como se quem tivesse entendido errado fosse eu. Perguntei: “Ovo vegano?” e ele: “Ovo pochê com espinafre vegano.” Perguntei se o ovo era de galinha e ele respondeu que sim, e eu disse que, portanto, não era vegano. Nesse momento ele percebeu o erro e disse que iria corrigir.
Essa é a história que me inspirou a escrever hoje. Como já disse em outros textos, sempre preciso de uma inspiração maior que venha de algum acontecimento que me indigna para poder desenvolver uma escrita. Mas o acontecimento maior que vou tratar nesse texto vem de outro episódio que rolou nesse mesmo restaurante.
Entre as opções do buffet vegetariano, havia um pastel de tofu com escarola. Me deixou salivando, e eu pensei por um segundo em me fazer de egípcia — fingir que nada aconteceu, que eu não tinha dúvidas se aquele pastel era mesmo vegano, simplesmente desfrutar daquele pastel recheado com tofu e escarola que parecia muito apetitoso. Mas meus princípios venceram. Não sou vegana por mim, sou vegana pelos animais. Perguntei se o pastel era vegano e a funcionária falou que ia conferir. Ela entrou no restaurante — eu estava na parte externa com a minha família — por tempo suficiente para olhar a placa e disse: “É de tofu com escarola, eles são veganos.” E eu perguntei: “E a massa do pastel?” Ela me respondeu: “É normal”, com uma cara como se fosse óbvio, como se eu estivesse querendo encontrar pelo em ovo.
Normal… Nesse pequeno momento, enquanto eu pensava na resposta dela, muitas coisas se passaram pela minha mente. Parecia aquele momento de filme onde o tempo para, mas a mente do protagonista continua girando e trabalhando numa velocidade absurda. O que é normal para você? O que é normal para ela? O que é normal para mim? Será que ela sabe o que é normal para mim? O que é normal para mim não importa para ela, então acho que ela está se referindo ao normal dela — talvez da maioria das pessoas ali. Ou não. Também não tem como ela saber se todas as pessoas aqui do restaurante comem ou não derivados de animal.
“Normal, você diz com leite, ovo, manteiga?”, perguntei depois de tanto pensar nesses milissegundos e tentando ignorar o fato de que todos esses ingredientes existem na versão livre de origem animal. “Normal, normal… tudo isso”, ela respondeu um pouco indignada, e eu agradeci e aceitei que não comeria o pastel. Não faço ideia do que vai na massa e, agora, depois de pesquisar, vi que, sim, muito provavelmente iria ovo naquela massa.
Aqui na minha cidade tem um restaurante vegetariano que faz pastel de palmito todas as terças no almoço e um restaurante vegano que vende pastel a cada quinze dias, o que nem sempre encaixa na minha agenda. Já liguei para a maioria das pastelarias e, mesmo tendo opções de recheio vegetarianas/veganas, eles continuam usando massa com banha/gordura de animal — por costume, e não por falta de opções de massa sem ingredientes de origem animal. Então eu estava faminta por pastel, por isso “insisti” em querer saber se era vegano. No caso do pastel, acabei fazendo em casa depois. No grupo de veganos da minha cidade, me disseram que nos mercados vendem a massa Aricanduva, que é deliciosa e vegana.
Tem uma coisa que eu faço muito quando vou a lugares não-veganos — e também já vi outros veganos fazendo — que é NÃO falar que sou vegana, não me referir a nada relacionado ao vegetarianismo e simplesmente dizer que tenho alergia a ovo ou derivados do leite, para que as pessoas levem a sério. Porque só assim conseguimos comer com a consciência tranquila.
O veganismo não é frescura. Respeitar que eu não quero e não vou colocar nenhum animal morto e nenhuma parte que venha dessa crueldade na minha boca é o mínimo. As pessoas não-veganas tendem a comparar o fato de eu não comer animais e seus derivados com o fato de elas não comerem arroz com folha de louro, ou feijão com cebola, ou não comerem peixe porque não gostam do cheiro, ou não comerem ovo porque têm nojo da textura.
Para trazer o entendimento dessa diferença, tento fazer uma comparação com baratas, mas não sei se funciona muito, porque as pessoas acabam ficando chocadas e me aproximam do termo “extremista”. “Você come barata? Comeria barata?”, pergunto, e geralmente a resposta é não. “Se eu te falasse que nesse sanduíche tinha uma barata morta dentro, mas eu tirei e agora você pode comer, você comeria?” Também a resposta sempre foi não. “Pois é, do mesmo modo eu não como o feijão, mesmo que você tenha retirado a linguiça antes.”
Ainda acho que o exemplo é fraco: a pessoa não come barata porque acha nojento, mas come outros animais. Eu não como nenhum animal, nem seus derivados, porque não compactuo com todo o sofrimento deles. Quando as pessoas não respeitam isso, me sinto VIOLADA. Também choco quando faço uma comparação com carne humana: “Você não se sentiria violado se deixasse explícito que não come carne e te servissem — sem te informar, porque acham que é frescura da sua parte — carne de uma criança que viveu sendo torturada e engordada para terminar no seu prato?”
Vai além do prato: vai da minha ética em não contribuir, direta ou indiretamente, para que toda a cadeia de crueldade aconteça. E isso, para mim, é muito pior do que as consequências físicas. Por exemplo, agora, depois de comer pela última vez no buffet vegetariano apenas o que estava descrito como VEGANO — excluindo o ovo pochê, por questões óbvias —, estou com muita dor de barriga, e tantos gases que nem consigo me mexer, nem ficar parada, sem sentir dor. De um jeito que nem me entupindo de simeticona (anti-gases) e chá de erva-doce resolve. Isso acontece sempre que como algo “duvidoso” que dizem ser vegano, mas não é.
Saber se todos os ingredientes realmente não são derivados de animais foi algo que precisei estudar. Aprendi que margarina geralmente leva leite de vaca, que massa de macarrão pode levar ovo, que batata frita pré-pronta pode ter banha de porco, que bolo de aniversário vai ovo e leite.
A verdade sobre as galinhas e os ovos
Muita gente ainda desconhece que galinhas não botam ovos de forma contínua e infinita por natureza. Galinhas verdadeiramente livres na natureza, sem qualquer manipulação genética ou intervenção humana, botam pouquíssimos ovos ao longo do ano, geralmente apenas o suficiente para garantir a reprodução da espécie. As galinhas industriais colocam, em média, cerca de 25 a 28 ovos por mês, ultrapassando 300 ovos por ano, graças à manipulação genética, dietas balanceadas pelo ser humano e uso intensivo de luz artificial para eliminar as pausas naturais do ciclo de postura. Já as galinhas verdadeiramente livres, sem manipulação humana, botam apenas cerca de 10 a 15 ovos por ano, o que equivale a, no máximo, um ovo por mês. Nesse ciclo natural, cada postura corresponde à formação de uma única ninhada, e o processo é interrompido quando a ave entra em fase de incubação e cuida dos ovos e dos filhotes. O ciclo natural envolve períodos de descanso, cuidado com a prole e até interrupções totais na postura. Isso contrasta totalmente com a realidade das galinhas chamadas “caipiras”, que já recebem rações elaboradas por humanos: mesmo que estejam soltas, esse suplemento alimentar leva a uma produção anual muito mais alta, algo distante do ritmo natural da espécie.
Quando olhamos para o ciclo da galinha, podemos fazer uma analogia interessante com o ciclo menstrual das mulheres. O ovo da galinha e o óvulo da mulher têm origens semelhantes: ambos são gametas, ou seja, células reprodutivas. Na mulher, ao longo do ciclo menstrual, o organismo se prepara para receber uma possível fecundação. Se ela não acontece, o corpo expele o óvulo e o endométrio, resultando na menstruação. Da mesma forma, a galinha, ao não encontrar o galo ou não ter fecundação, elimina seus óvulos na forma de ovos. Ou seja, assim como na menstruação, o ovo que chega até a mesa é o resultado de um processo natural de descarte. Tanto na mulher quanto na galinha, a expulsão do gameta não é algo infinito e frequente por definição, e sim um ritmo biológico ditado pela necessidade reprodutiva, só alterado graças à intervenção humana. O que a indústria faz com as galinhas — induzindo-as a uma produção desumana de ovos — seria comparável a forçar mulheres, por meio de anticoncepcionais hormonais e manipulação ambiental, a ovularem e expelirem óvulos em sequência várias vezes por mês, ignorando completamente os limites do corpo, a saúde física e o equilíbrio psicológico. Essa comparação evidencia o quanto o ciclo natural dos animais é subvertido para atender à lógica produtivista, revelando uma situação de exploração intensa e artificial.
Ainda existe muita confusão sobre ovos serem galados ou não. Para produzir ovos, a galinha não precisa do galo — ela naturalmente bota ovos mesmo sem ser fecundada. Só que, para gerar pintinhos, é necessário que o ovo seja galado, ou seja, tenha sido fecundado por um galo. Nos sistemas industriais de produção de ovos, não há galos com as poedeiras: todos os ovos vendidos para consumo são inférteis, jamais irão gerar filhotes, mas isso não impede que a galinha continue sobrecarregando o próprio corpo para produzi-los. Essa produção artificial é muito diferente da natureza dessas aves.
Apesar de não receberem hormônios (proibidos por lei no Brasil e em outros países), a alimentação industrial tem alta densidade calórica, mineral e vitamínica, tentando compensar o desgaste extremo que essa produção anormal de ovos causa no organismo da ave. Esse ritmo de produção provoca problemas graves – como osteoporose, fraturas espontâneas e lesões – especialmente nos ossos das galinhas. Para cada ovo, a ave consome muito cálcio do próprio esqueleto, tornando-se progressivamente mais frágil. A expectativa de vida natural de uma galinha, ou seja, vivendo solta e sem intervenção produtiva ou manipulação genética, fica entre 10 e 15 anos, podendo até chegar a mais em casos excepcionais. Já na indústria de ovos, a realidade é bem diferente. As galinhas poedeiras industriais são exploradas intensivamente para a produção de ovos e, por isso, têm sua vida drasticamente encurtada: normalmente vivem apenas entre 1 e 2 anos antes de serem descartadas, quando a produtividade cai.
As condições de confinamento nas granjas normalmente também são bastante severas. As aves vivem em gaiolas coletivas pequenas, em espaços não maiores do que uma folha A4, muitas vezes amontoadas, sem espaço para se mover, ciscar ou bater as asas. A superlotação e o estresse agravam ainda mais os problemas de saúde, resultando em sofrimento prolongado. Elas passam a maior parte da vida literalmente sem colocar os pés no chão, com lesões crônicas pelo contato constante de suas patas com grades.
Outro aspecto fundamental é o uso da luz artificial. Mantendo as luzes acesas por longos períodos ou mesmo permanentemente, a indústria faz com que o organismo das galinhas “acredite” que está sempre na estação de reprodução. Elas não têm um ciclo claro de dia e noite nem pausas, o que força uma produção de ovos ainda mais intensa, sem tempo para recuperação corporal. O resultado disso é um ciclo de vida antinatural, guiado não pelos ritmos biológicos da espécie, mas pelas necessidades produtivas humanas.
A prática chamada muda forçada é outro recurso adotado em muitos locais. Consiste em provocar, por meio da retirada abrupta de alimento ou mudanças químicas drásticas na dieta, uma troca de penas nas aves. Essa medida serve para “resetar” o ciclo de postura, obrigando as galinhas a retomarem uma produção de ovos alta logo em seguida. O processo é extremamente estressante, além de abrir margem para doenças e aumentar as taxas de mortalidade, expondo as aves a uma condição de sofrimento físico e mental contínuo.
Todo o processo é extremamente estressante e, não à toa, as galinhas passam por mutilações preventivas, como o corte parcial do bico. Essa prática é comum justamente porque, submetidas ao confinamento, lotação e estresse crônico, as aves acabam desenvolvendo comportamentos agressivos e anormais, como bicagem excessiva umas nas outras, o que pode levar a ferimentos graves e até morte. O corte do bico, que é feito ainda nos primeiros dias de vida sem qualquer anestesia, causa dor aguda e prejuízos permanentes à sensibilidade da ave, sendo apenas uma medida paliativa para um problema gerado pelas próprias condições inadequadas de criação. Os impactos da indústria de ovos vão muito além do sofrimento animal: também representam riscos importantes para a saúde humana. O confinamento intenso, o manejo artificial e a imunidade constantemente debilitada das galinhas criam o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias perigosas, como a Salmonella, frequentemente associada a surtos de intoxicação alimentar ligados ao consumo de ovos e seus derivados.
Além disso, o estresse crônico e o desgaste fisiológico reduzem drasticamente a imunidade das galinhas, tornando-as ainda mais suscetíveis a infecções. Isso se torna terreno fértil para o surgimento e propagação de epidemias, incluindo a temida gripe aviária (Influenza), que já provocou a morte de milhões de aves no mundo todo e representa uma grave ameaça ao próprio ser humano devido ao risco de transmissão zoonótica. Dentro desse contexto, o convívio próximo de milhares de aves debilitadas aumenta os riscos de que vírus e bactérias sofram mutações e atravessem a barreira das espécies, dando origem a doenças capazes de causar surtos e pandemias. Portanto, a exploração abusiva na indústria do ovo, além de condenar as galinhas a vidas de sofrimento, constitui um fator de risco concreto para a saúde coletiva, favorecendo o surgimento de problemas sanitários globais.
É importante ressaltar que o sofrimento e os problemas sanitários não estão restritos apenas às galinhas criadas em gaiolas. Nos últimos anos, muitas empresas têm apostado em vender ovos com selos como “galinhas felizes”, “livres de gaiolas” ou “caipira”, apresentando ao consumidor uma imagem de aves vivendo soltas, ciscando pastos verdes sob o sol e seguindo seu ciclo natural. Essa ideia, porém, na maioria dos casos, está muito distante da realidade.
Ainda que não estejam presas em gaiolas lotadas, essas galinhas continuam submetidas a sistemas intensivos de produção. Em vez de gaiolas, elas são mantidas em galpões fechados e superlotados, com milhares de aves amontoadas em espaços reduzidos, sem acesso real ao ambiente externo ou à possibilidade de expressar plenamente seus comportamentos naturais, como construir ninhos, ciscar, empoleirar e explorar o ambiente. O ciclo de produção continua sendo ditado por luz artificial, suplementação alimentar controlada e seleção genética, com as mesmas consequências de saúde e bem-estar já descritas: alta incidência de doenças, baixa imunidade, estresse crônico, mutilações preventivas e descarte precoce assim que a produtividade diminui.
Apesar da publicidade prometer uma vida idílica para essas aves, a lógica da produção em larga escala se mantém. O sofrimento e a crueldade, infelizmente, continuam sendo inerentes ao sistema — apenas mudam as estruturas físicas de confinamento. O ciclo de exploração, desgaste extremo e descaso com o bem-estar animal permanece, mostrando que os selos e marketing de “galinhas felizes” raramente refletem a verdadeira condição desses animais.
Da mesma forma, é importante desfazer a crença amplamente estimulada pela indústria de que precisamos da proteína do ovo para ganhar músculos ou garantir saúde. O ovo, de fato, fornece proteína de alto valor biológico, mas não é indispensável para pessoas comuns — especialmente para quem não realiza treinamentos intensos e de alto rendimento físico. A atual onda de suplementos de proteína em pó e a supervalorização desse nutriente reforçam a ideia equivocada de que todos precisamos suplementar proteína para viver melhor ou atingir objetivos esportivos, quando, na realidade, apenas atletas e pessoas com demandas muito específicas necessitam de quantidades elevadas. Mesmo nesses casos, o objetivo da ingestão de proteína em pó é unicamente favorecer a recuperação do músculo após danos causados por treinos intensos, ou seja, reparar o tecido muscular; não há nenhum outro benefício além desse comprovado pelo consumo de suplementação proteica. Portanto, pessoas que não praticam exercícios de alta intensidade ou musculação pesada não têm qualquer necessidade real desses suplementos — o que precisam, de fato, é de uma alimentação balanceada adequada às suas necessidades, preferencialmente acompanhada por um profissional nutricionista.
A proteína de fontes vegetais — como leguminosas, sementes, grãos integrais e castanhas — atende perfeitamente as necessidades do corpo humano, promovendo saúde e evitando o sofrimento animal. Diversos estudos já demonstraram que dietas baseadas em plantas são completas e que atletas veganos alcançam excelentes resultados de desempenho e recuperação muscular quando seu cardápio é balanceado.
É fundamental destacar que o excesso de consumo de ovos pode trazer malefícios à saúde. Ingerir muitos ovos diariamente está associado a alterações no metabolismo das gorduras, aumento de colesterol e maior risco de doenças cardiovasculares em algumas pessoas. Além disso, sobrecarregar os rins com proteínas desnecessárias pode ser problemático, especialmente para quem já tem predisposição a problemas renais. Especialistas reforçam que a ingestão exagerada de ovos, assim como de qualquer alimento, não gera mais ganho de massa muscular e pode, sim, representar riscos ao bem-estar físico a longo prazo.
Portanto, não precisamos de ovos (nem de suplementos de proteína) para uma vida saudável, forte ou atlética. Basta um olhar crítico, informação de qualidade e respeito aos próprios limites do corpo — e, principalmente, respeito aos direitos dos animais.
A verdade sobre as vacas e o leite
Bom, quanto às vacas, meu próprio marido – que eu considero como uma das pessoas mais inteligentes que conheço – antes de me conhecer acreditava que elas serviam apenas pra produzir leite pra nós, humanos. Então eu não espero muito diferente de outras pessoas. A realidade é que as vacas não produzem leite de forma incessante durante toda a vida, nem foram “feitas” para suprir gostos ou necessidades humanas. Assim como qualquer mamífero, a vaca só produz leite após engravidar e parir um bezerro. Para manter isso de forma “contínua” na indústria, as vacas são constantemente engravidadas artificialmente – eu odeio esse termo, a realidade bruta e crua é que elas são estupradas por humanos constantemente contra sua vontade -; e somente a gestação e o nascimento estimulam os hormônios necessários para a produção de leite. Em média, a vaca produz leite por aproximadamente 10 meses após o parto, quando então é novamente inseminada para dar início a um novo ciclo de lactação. Entre uma lactação e outra, há sempre uma pausa em que a vaca não produz leite, evidenciando que esse é um processo biológico condicionado à reprodução e não contínuo.
A realidade das vacas na indústria do leite é tão cruel e exploratória quanto a das galinhas poedeiras. Na produção industrial, após as vacas serem estupradas apenas para atender à demanda econômica, elas têm seus filhotes quase sempre retirados de si de imediato — os machos, na maioria das vezes, são mortos por não terem valor para a indústria, enquanto as fêmeas entram no mesmo ciclo da mãe. O instinto materno das vacas é fortíssimo; não raramente, elas recusam-se a levantar e mugem por dias a fio pela perda do bezerro, evidenciando sofrimento emocional profundo. Nós, humanos, muitas vezes não conseguimos compreender ou interpretar esse choro, essas palavras de dor, simplesmente porque pertencemos a uma espécie diferente e nossos modos de comunicação são distintos. Porém, se fosse um ser humano passando por essa perda, é certo que entenderíamos e nos comoveríamos profundamente. Agora, imagine a dor das outras vacas ao redor, que escutam e compreendem esse sofrimento de maneira clara, vivendo com a consciência de que essa é a realidade que as aguarda — uma vida marcada pela separação, pela perda constante e pela exploração. Esse conhecimento amplia ainda mais o peso da crueldade a que são submetidas, porque não se trata apenas de um sofrimento individual, mas de um clima coletivo de angústia e desespero dentro do rebanho.
Além da imposição desse ciclo reprodutivo antinatural, as vacas leiteiras recebem rações especialmente formuladas e, muitas vezes, suplementos hormonais ou aditivos para maximizar a produção. Isso as obriga a produzir uma quantidade extrema de leite, muito além da que seria fisiologicamente prevista para nutrir apenas seu filhote. O resultado é um quadro permanente de sobrecarga física, levando, entre outros problemas, à mastite — uma inflamação dolorosa das glândulas mamárias que pode causar febre, dor intensa, queda na produção, exigindo uso de antibióticos e podendo levar até à morte caso não tratada. Estima-se que os casos de mastite estejam entre os principais motivos de descarte prematuro de vacas leiteiras, refletindo o quanto a produtividade exacerbada cobra um preço alto da saúde dos animais.
O contraste entre a vida natural e a vida industrial dessas vacas é gritante. Naturalmente, uma vaca viveria cerca de 20 anos, sendo que seu período de lactação para o bezerro seria limitado aos primeiros meses de vida da cria, e só ocorreria novamente caso tivesse outro filhote. Já na indústria, sua existência se resume a ciclos acelerados de prenhez, lactação forçada – por meio de máquinas de ordenha que são acopladas às tetas das vacas por várias horas todos os dias, sugando de maneira incessante o leite – e separação de filhote, sendo explorada intensamente por cerca de 3 a 5 anos, quando passa a não ser mais “rentável” e é descartada para o abate. Ou seja, elas passam praticamente toda a existência reprodutiva sendo manipuladas para produzir leite continuamente não para alimentar seus próprios filhotes, mas o mercado consumidor humano.
Todos os mamíferos, inclusive animais humanos, só produzem leite para alimentar seus respectivos filhotes, no período de amamentação após o nascimento. A capacidade de produção de leite nas fêmeas é regulada por hormônios específicos do ciclo reprodutivo, e não há qualquer espécie, incluindo a vaca, cuja biologia sirva para atender à demanda de outra espécie animal. O leite de cada mamífero é perfeitamente adaptado às necessidades nutricionais específicas de seus filhotes: o leite de foca, por exemplo, é riquíssimo em gordura, enquanto o de baleia tem outra composição. O de vaca foi “programado” pela natureza para bezerros, não para humanos adultos.
Nós, humanos, somos uma exceção radical no reino animal. Somos a única espécie de mamífero que consome leite durante toda a vida — mesmo após o desmame — e, ainda mais extraordinário, de outra espécie. Essa prática só foi possível porque uma mutação genética relativamente recente permitiu que parte da humanidade adulta mantivesse a produção da enzima lactase, responsável por digerir lactose; mas, ainda assim, a maioria das pessoas no mundo é naturalmente intolerante à lactose, mostrando que o consumo não é universal nem biologicamente necessário.
Além disso, cresce cada vez mais o número de bebês diagnosticados com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Estima-se que entre 1,8% e 7,5% dos lactentes no primeiro ano de vida já apresentam APLV, sendo inclusive um dos principais desafios alimentares e de saúde nos primeiros meses de vida. O aumento na identificação de casos reflete tanto uma maior atenção dos pediatras quanto o impacto do contato precoce com leite de outra espécie, reforçando que o leite de vaca não é adequado nem mesmo para muitos recém-nascidos humanos. É importante destacar que esses bebês podem ser afetados até mesmo de forma indireta, sem ingerir eles próprios leite de vaca ou seus derivados. Muitos sintomas de APLV aparecem simplesmente porque a mãe consome leite de vaca — as proteínas passam pelo leite materno e sensibilizam ou desencadeiam reações alérgicas no bebê. Nessas situações, a mãe lactante acaba precisando adotar uma dieta rigorosamente restritiva, muitas vezes praticamente vegana, excluindo todos os alimentos de origem animal que possam conter traços de leite, para poder amamentar seu filho em segurança. Caso isso não seja possível, resta recorrer a fórmulas infantis de origem vegetal, o que evidencia ainda mais o quão inadequado é o leite de vaca para a espécie humana desde o início da vida.
Portanto, nenhum ser humano “precisa” de leite de vaca para viver ou ter saúde: ele é uma convenção cultural e industrial, não uma necessidade biológica. O leite de vaca é, originalmente, alimento para o bezerro — assim como o leite humano serve para o bebê humano apenas no período de amamentação. O ciclo artificial de constante produção só existe graças à exploração reprodutiva das vacas pela indústria, e a ideia de que leite foi “feito” para consumo humano não encontra sustentação na biologia nem na história natural.
A farsa de que o leite de vaca industrializado é essencial devido ao cálcio também já foi amplamente desmentida. Depois que desmamamos da nossa própria espécie e, com os ossos já formados, não há absolutamente nenhuma necessidade de recorrer ao leite de outro animal. A demanda de cálcio pode ser suprida facilmente através de vegetais, sementes, leguminosas e oleaginosas — alimentos acessíveis, variados e, muitas vezes, mais saudáveis. Assim, a saúde óssea e as demais funções do organismo não dependem do consumo de laticínios, mas de uma alimentação balanceada e diversificada, comprovando mais uma vez que o leite não é indispensável em nenhuma fase da vida humana.
Escolha Consciente
Eu poderia abordar a exploração de diversas espécies antes que seus corpos cheguem ao nosso prato, mas escolhi focar apenas nessas duas, que são frequentemente negligenciadas e, na minha opinião, as mais confundidas com alimentos veganos e inofensivos, especialmente quando falamos de seus derivados. Poderia também falar sobre os peixes, que raramente são reconhecidos como seres merecedores de empatia, ou sobre os porcos, e sobre o ato de ingerir e colocar dentro do meu corpo a carne de um animal que, além de ser vulnerável a doenças, viveu uma vida marcada por profunda tristeza. Poderia mencionar ainda o transporte desumano desses animais e o impacto ambiental devastador causado por essas indústrias. No entanto, quero deixar claro que meu objetivo, ao compartilhar tudo isso, é provocar uma reflexão sobre se a comida “normal” realmente deveria vir acompanhada de tanto sofrimento.
Algo que também despertou uma reflexão profunda em mim foi o fato de que, na escola do meu filho, se eu quero que ele tenha um cardápio vegano nos momentos do lanche, preciso pagar uma taxa extra, enquanto quem consome “proteína animal” não paga nada a mais por isso. Para mim, isso é extremamente contraditório. Qual seria a justificativa para isso? Na minha visão, o correto seria todos seguirem um cardápio à base de plantas, e quem quisesse acrescentar proteína animal deveria arcar com um custo adicional. Afinal, a proteína animal é um luxo, é um extra, e é mais cara. Justamente por isso, a comida de base, até mesmo a comida adaptada para crianças com alergias, como aquelas com APLV, é vegana — exatamente porque o cardápio vegano na escola é o mesmo que o cardápio adaptado para alergias alimentares. Para mim, isso é muito mais importante do que o apego cultural pela carne, que, além de causar sofrimento, também representa um gasto maior.
O arroz, o feijão, o macarrão, os vegetais, os legumes, as frutas — tudo que uma criança precisa em termos de nutrientes — é vegano. A salada é vegana, a guarnição — geralmente brócolis, cenoura, couve-flor ou batata assada — é vegana, a fruta é sempre vegana. Nos pratos principais, a escola sempre busca oferecer uma alternativa vegetal semelhante à proteína animal; por exemplo, nos dias de picadinho de carne, o cardápio vegano tem picadinho de soja; na bolonhesa vegana, a proteína vem da soja. Enfim, todas as opções são simples, acessíveis e veganas. Não estou falando dos industrializados caros que vemos no mercado, mas da comida feita na escola, planejada por nutricionistas com antecedência.
O purê de batata não precisa de leite de vaca nem de margarina derivada dele, assim como o creme de milho também não. Panqueca, crepioca, pão de queijo — todos podem ser feitos sem ovos ou queijo; a levedura nutricional, por exemplo, é muito nutritiva e substitui bem o sabor tradicional de queijo que conhecemos. Portanto, se não é uma questão financeira, se o sabor não difere, qual o motivo de continuarmos oferecendo comida não vegana aos nossos filhos? Por que os veganos têm que pagar mais caro por escolherem a opção correta, aquela que respeita a ética, a moralidade, a saúde e o meio ambiente?
Além dos valores tradicionais e culturais que moldam essas escolhas, quantos de nós realmente fomos apresentados à comida da forma correta? Quantos cresceram associando o ovo à Galinha Pintadinha, o bacon ao porquinho feliz das histórias, o leite à vaquinha sorridente das embalagens? Essas imagens encantadoras e idealizadas, alimentadas desde a infância, criam uma inocência e uma cegueira que nos roubam o poder de uma escolha consciente. Crianças são puras e dotadas de uma empatia genuína, quase instintiva, e eu sei que, se lhes apresentarmos a verdade — sempre de maneira delicada, respeitosa e sem crueldade — elas rejeitarão o sofrimento que está por trás desses alimentos. Reconhecer e cultivar essa sensibilidade é um passo essencial para construirmos um futuro mais ético, compassivo e justo para todos os seres.
Até hoje eu preciso pesquisar pra saber se o emulsificante do sorvete de açaí é leite em pó, ou se o corante que deixa o suco de morango ou o batom vermelho vem de milhares de cochonilhas esmagadas e trituradas. Pra piorar, recentemente, depois de muito comprar produtos de cabelos veganos e não testados em animais, descobri que queratina não é vegana, que vem de unhas e chifres de animais. E, pra melhorar, tudo isso já encontramos na versão vegetal — não é difícil encontrar substitutos. E também não é difícil olhar os ingredientes ou verificar antes de ir ao mercado — usei muito e recomendo o app/site WikiVeg — se aquele alimento contém ingredientes de origem animal.
Algumas pessoas, ao se depararem com opções veganas, costumam reagir com certo “nojo” ou estranhamento — e nessas horas, sempre faço questão de brincar: “O que foi? Pode ficar tranquilo, aqui não tem nenhum animal morto.” Essa provocação, além de descontraída, também expõe o quanto estamos condicionados por padrões culturais profundamente enraizados, que relacionam sabor, prazer e tradição à presença de ingredientes de origem animal, enquanto estranhamos justamente aquilo que é mais natural, saudável e livre de sofrimento. Ainda assim, reconheço que temos um longo caminho pela frente para quebrar essas barreiras e questionar as crenças que nos fizeram enxergar a exploração animal como normalidade. Afinal, não é curioso pensarmos no quanto fomos ensinados a sentir repulsa diante de uma comida feita apenas de plantas, mas sentimos normalidade — e até prazer — diante da violência cotidiana embutida na nossa alimentação? Mudar esse olhar exige coragem, conhecimento e empatia, mas é um processo transformador e necessário para construirmos uma relação mais justa com todos os seres e com o próprio planeta.
Atualmente, ser vegano não é mais difícil. Optar pela empatia todos os dias está ao nosso alcance como nunca antes, com a internet sempre na palma da mão, facilitando o acesso rápido e confiável a informações e orientações para fazermos escolhas conscientes. Os mercados mais comuns já estão cheios de opções veganas acessíveis, e as feiras, então, sempre estiveram repletas delas — frutas, legumes, verduras e grãos. Mudar nossos hábitos exige esforço, sim, e às vezes aprender novas receitas, adaptar nossos sabores ou até fazer novas amizades. Mas esse esforço inicial vale a pena, porque o normal deveria ser sempre aquilo que nos distancia do sofrimento, da exploração e da crueldade — e nunca o contrário.
Convido a todos que chegaram até aqui a lerem meu outro texto “Por que veganos comem alimentos que imitam carne?“.